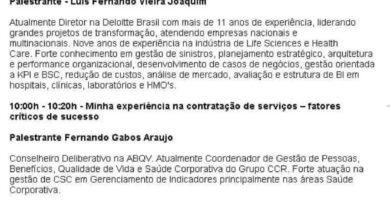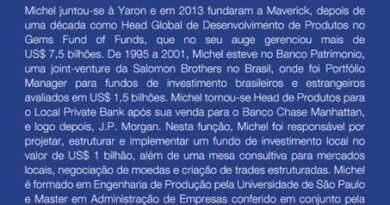Alberto Diwan, advogado: Não é necessário adentrar em grandes detalhes sobre o caso envolvendo a imparcialidade de Sergio Moro. As mensagens vazadas já foram publicadas, tuitadas, compartilhadas e comentadas intensamente e tudo indica que mais está por vir. O Senado já abordou o tema em uma CPI e em breve o STF terá de se manifestar sobre o assunto, que se ramifica em várias questões: as mensagens são autênticas? Caso sejam autênticas, podemos usá-las como prova, considerando sua origem criminosa? Em caso positivo, ou seja, caso sejam confirmadas a autenticidade e legalidade das mensagens, elas indicam que o então magistrado julgou de forma parcial? Superadas as preliminares, como deve ser julgado o mérito da questão? A troca de mensagens com o MPF sugere que Moro ignorou o dever de imparcialidade do julgador, princípio básico indissociável da Justiça? Tal conduta caracteriza o ato de “aconselhar as partes”, previsto no Art. 254, IV, do Código de Processo Penal, definindo-o como juiz suspeito?
Juízes se uniram para criticar Moro, ao passo que outros prontamente saíram em sua defesa. Mas em tempos de redes sociais, não importa se você é juiz, advogado, jornalista, político ou leigo: todos têm direito de interpretar e opinar de acordo com suas convicções e divulgá-las a quem quiser ler. Proliferam-se, dessa maneira, textos de fãs que apoiam o ministro e de críticos que o repreendem, mesclando-se questões jurídicas, políticas e ideológicas.
A imparcialidade, no entanto, merece ser estudada sob um prisma diferente. Muitos consideram que a consagração deste princípio está definido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo décimo prevê: “Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um Tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”. Hoje parece óbvio dizer que a figura do juiz não deve se confundir com a do acusador e que todos tem direito de ser julgado de forma neutra. Muitos ordenamentos jurídicos pretéritos, no entanto, não respeitavam esta premissa essencial da Justiça, negando ao réu direitos básicos e fundamentais.
Seria a imparcilaidade do juízo um fruto da modernidade? Teria sido originada pela propagação dos ideais iluministas e pelo advento dos direitos humanos? O Réu da Antiguidade era desprovido desse direito? Quando a imparcialidade se tornou a pedra fundamental em que erguemos as bases da Justiça?
Há um sistema jurídico antigo e distante, pouco lembrado e quase nunca estudado, que nos concede respostas à essas questões. Refiro-me ao Direito Judaico, percursor do islamismo e do cristianismo. Não é necessário crer em qualquer divindade para reconhecer o valor histórico do livro mais vendido do mundo a importância de um sistema que fundou as bases da civilização. Como uma das culturas mais antigas do mundo que enfrenta o tema da imparcialidade? O que podemos aprender dos textos antigos até hoje estudados e comentados? Quais as respostas dadas pelo ordenamento jurídico hebraico?
Maimônides (Rabi Moshe ben Maimon, 1135 – 1204), um dos maiores legisladores e codificadores da Lei Judaica, escreve que se o juiz toma emprestado um artigo, ele é desqualificado para julgar litígios envolvendo o emprestador, salvo se também emprestará algo em troca, pois pode sentir-se tentado a favorecer a parte que lhe emprestou um bem.
A Lei Judaica também proíbe o juiz de julgar o caso envolvendo um amigo, medida necessária para garantir a supremacia de imparcialidade. Maimônides ensina que a proibição se aplica mesmo que o amigo “não seja membro de sua festa de casamento” ou parte de seus “companheiros mais íntimos”. Basta uma relação de coleguismo cordial para vedar o julgamento. De outro lado, ao juiz também é vedado julgar alguém que odeia, mesmo que não seja propriamente seu inimigo. Essa vedação é claramente mais severa que o próprio CPP, que menciona “amigo íntimo” ou “inimigo capital”.
A lei judaica determina que “os litigantes devem ser vistos igualmente aos olhos e aos corações do juiz”. Maimônides conclui: “Se o juiz não conhece nenhum deles e não está previamente familiarizado com seus atos, este é o julgamento mais justo que poderia ser”.
O sábio também proíbe que dois juízes desafetos atuem no mesmo caso juntos. Isto é, ainda que não sejam suspeitos de atuar com parcialidade para favorecer ou desfavorecer uma das partes, a relação de inimizade entre os próprios juízes pode influenciar e deturpar o julgamento! Nas palavras do sábio, “o ódio que cada um deles carrega para o outro fará com que ele revogue as palavras de seu colega”. Em outras palavras, o Princípio do Juiz Natural prevalece de forma absoluta, ainda que deva afetar o julgamento colegiado e substituir a turma julgadora.
Como exemplo de implementação prática desse princípio, o Talmud (TB; San. 7B-8A) nos conta a famosa história de Rav, que se recusou a julgar um caso envolvendo seu anfitrião. O homem pediu encarecidamente que, como retribuição da bondade e da hospedagem, o rabino atuasse como juiz em um litígio. Rav, sabendo que não conseguiria agir com imparcialidade, transferiu o caso a um colega.
A própria Torá (Bíblia Hebraica) já prenuncia a importância de uma estrutura judiciária e da Justiça pautada na imparcialidade, nos termos dos seguintes versículos: “Juízes e polícias designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno, teu Deus, te dá, e julgarão o povo com reto juízo;” “Não torcerás o juízo, nem farás distinção de pessoas a não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno, teu Deus, te dá”. (Deut. 18:20-23).
As orientações bíblicas, portanto, ressaltam a relevância de um sistema de justiça adequado e dotado de credibilidade, positivando normas que, ao menos teoricamente, coadunam com as finalidades atuais de qualquer ordenamento jurídico. No mesmo sentido, a Torá afirma: “Não fareis injustiça no juízo, não favorecerás (quando não tem razão) as faces do mendigo, nem honrarás as faces do poderoso; com justiça julgarás o teu próximo” (Lev. 19:15). Tal imparcialidade é, de fato, indispensável para garantir o devido processo legal. Rashi (Rabi Shlomo Yitzhaki, 1040 – 1105), ao comentar tal verso, utiliza termos fortes, indicando a gravidade de se transgredir a essência da Justiça, indicando que “isso nos ensina que o juiz que perverte o juízo é chamado de ‘pessoa injusta’, odioso e detestado, condenado à destruição e uma abominação”. O comentarista Sforno escreve que se trata de uma advertência para não se referir severamente a um litigante, e ser indulgente com seu oponente, deve haver equivalência entre Acusação e Defesa. O rabino prossegue e afirma que o versículo quer dizer também: “Não permita que um litigante se sente enquanto seu oponente é obrigado a permanecer de pé”. A base judaica deste princípio também pode ser encontrada no versículo “ao pequeno como ao grande do mesmo modo ouvireis” (Deut. 1:17). É a igualdade em seu aspecto formal por excelência.
Um comentário simples e aparentemente secundário do jurista Max May revela a fascinante cautela dos sábios judeus para assegurar a igualdade entre as partes do processo:
“Os funcionários do tribunal estavam sentados à esquerda e à direita dos juízes, registrando seus argumentos e votos. Os juízes não vestiam roupas oficiais. Da mesma forma, as partes envolvidas foram, em casos de crimes graves, proibidos de usar roupas espalhafatosas. Não lhes era permitido aparecer em trajes extravagantes, nem vestidos desgastados, a fim de impressionar a corte com suas riquezas ou despertar simpatia com sua pobreza. Isto estava em contraste (…) com o costume da Roma antiga, onde os litigantes às vezes apareciam em trajes muito elegantes, acompanhados de numerosos assistentes ou vestidos de luto para influenciar os juízes a seu favor”.
Sabe-se que os juízes, por mais estudiosos e preparados que sejam, estão suscetíveis a erro e a formar um juízo de valor subjetivo ao arrepio dos fatos. Logo, proíbe-se que haja divergência nas roupas das partes, a fim de assegurar a paridade de armas.
A essência do conceito atual de “paridade de armas” também se faz bem evidente no comentário da obra Ein Yaacov (Shevuot, 4:1): “Isto significa que o tribunal não deve permitir que um litigante se sente, enquanto o outro está de pé; um litigante não deve ter o privilégio de falar enquanto o outro é negado tal privilégio”.
No Midrash Sifra consta a proibição de um litigante expor seu caso prolixamente e determinar à outra parte que o faça de forma breve. O contemporâneo rabino Ephraim Buchwald, ao comentar o processo judicial defendido pelo Talmud, esclarece que “o julgamento deve ser equânime, e justo, sem qualquer compromisso com as partes”. Na mesma linha, transcreve-se comentário ao versículo (Ex. 23:06) na obra brasileira Torá Viva – A Lei de Moisés:
“O Talmud explica que um juiz não pode dispensar qualquer tratamento diferenciado aos litigantes; ele não pode dirigir-se asperamente a um e suavemente ao outro; se um dos litigantes está sentado, o outro não deve estar de pé. Do mesmo modo, a condição social econômica, religiosa ou intelectual dos litigantes não pode influir no julgamento, apesar da natural e nobre tendência humana de privilegiar os mais fracos em detrimento dos poderosos. Nessa hora, é dever do juiz desconsiderar (“ser cego”) os fatores externos que envolvem os litigantes em si e deter-se exclusivamente nas evidências diretas do caso, sob pena de perverter a justiça”.
Por essa razão, o Talmud (TB; Shav. 30B), visando reprimir qualquer tipo de favoritismo no julgamento, definiu que não apenas eruditos ou pessoas importantes deveriam receber assentos no tribunal, como também todos litigantes, mesmo aqueles que geralmente não seriam recepcionados com tal honra.
Tais regras procedimentais foram compiladas e positivadas no Shulchan Aruch, o Código da Lei Judaica, que dedica um capítulo inteiro ao que hoje denominamos Princípio da Isonomia:
“Igualar as partes em todos os aspectos. ‘Com justiça julgarás o teu próximo’ (Lev. 19:15). O que significa justiça no julgamento? É igualação das duas partes em tudo. Não se deixará um falar tudo o que precisa, e dizer ao outro: sintetize suas palavras. E não se tratará a um com simpatia e palavras suaves, enquanto ao outro virar a face e falar com ele rudemente. E se um estiver vestido com roupas caras e o outro com roupas humildes, diz-se ao respeitável: ou vesti-lo-ás como tu, ou vestir-te-ás como ele. E não ficará um sentado e o outro de pé, senão ambos de pé; e se o tribunal permitiu-os sentar-se, sentam-se. (…)”.
Teria Sérgio Moro violado tais regras e comprometido a imparcialidade que deve reger sua conduta? Deixo para o leitor interpretar e responder. A cultura judaica enriquece o debate na medida que se aprofunda neste princípio essencial. Obviamente, não devemos julgar o conteúdo das mensagens com base em legislações antigas. É a jurisprudência dos tribunais brasileiros e a doutrina dos juristas brasileiros que deve embasar o Direito pátrio, afastando-se questões políticas e religiosas.
Porém, estudar os ditames jurídicos milenares do judaísmo nos ajuda a clarear questões nebulosas, oferecendo respostas atemporais para questões eternas. Aprofundando-se nas origens de uma regra processual, podemos contemplar sua relevância seus desdobramentos. O estudo e a reflexão, enfim, podem nos presentear com as ferramentas necessárias para construção deste ideal tão antigo quanto a Bíblia, que é a incansável e inexorável busca pela Justiça.
Alberto Diwan é advogado sócio do escritório Davidovich & Diwan Advogados, autor da obra “Justiça Seguirás: a matriz judaica do Direito Penal Constitucional” e do blog “Reflexões Judaicas”. É pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Direito Penal pela Universidad Castilla La-Mancha em Toledo (Espanha). Texto publicado no Jusbrasil