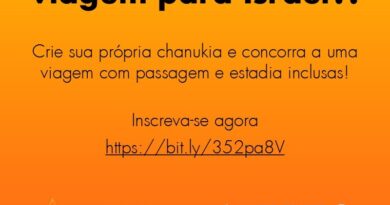No limite entre recordação e rasura, a ucraniana Katja Petrowskaja empreende em seu livro de estreia uma busca marcada pela dúvida. “Talvez Esther”, diz o pai da autora ao tentar lembrar o nome de sua avó paterna, fuzilada pelos nazistas durante a ocupação alemã de Kiev. O lapso, adotado como título do livro, indica já de saída o projeto que move a autora e o limite com o qual ela se depara. Petrowskaja conduz em “Talvez Esther” uma investigação obsessiva em torno da história da própria família, movida pelo ímpeto de lembrar as vidas destruídas no Holocausto. Mas o desejo de nomear, de dizer o que aconteceu, acaba por se deparar a todo momento com incertezas, lacunas, silêncios. Não há solução para a dúvida a não ser fazer dela também uma inscrição, registrar a falta, indicar no próprio livro algo do que ele não contém.
Ao serem esquecidos, sugere Petroswskaja, os mortos são submetidos a um segundo desaparecimento. Nomeá-los é um gesto mínimo, mas nem por isso irrelevante. Um nome (mas também um objeto, uma foto, uma história) é qualquer coisa que sobrevive, que se transmite, que é salva da destruição: Simon, Rosa, Dina, Margarita surgem nas páginas de “Talvez Esther” em pequenas histórias amontoadas de maneira fragmentária. Investigar o passado é revirar escombros: “Às vezes eu tinha a sensação de me mover pelo entulho da história”, ela escreve. Num certo sentido, portanto, o livro só tem início quando já é tarde demais para escrevê-lo. A busca se inicia quando a autora se dá conta de algo que já não está a seu alcance: “Quando Lida, a irmã mais velha de minha mãe, morreu, compreendi o significado da palavra ‘história’. (…) História é quando, de repente, não há mais ninguém a quem perguntar, só restam as fontes.”
Petrowskaja nasceu em Kiev em 1970, quando a cidade ainda fazia parte da União Soviética. Seus antepassados eram judeus do leste europeu. Por sete gerações, a família dedicou-se à educação de deficientes auditivos, dirigindo internatos na Áustria e na Polônia antes de chegar à URSS fugindo da perseguição étnica, ainda nas primeiras décadas do século XX. Petrowskaja se deslocou na direção inversa, indo morar na Alemanha no fim dos anos 1990. Seu livro é escrito na língua daqueles que perseguiram e assassinaram seus parentes: “Pensava em russo, procurava os meus parentes judeus e escrevia em alemão”. Petrowskaja sugere que há uma espécie de redenção nesse gesto de registrar os nomes e histórias dos mortos na língua de quem os matou: “se até eu escrevo em alemão, então, de fato, nada nem ninguém caiu no esquecimento, e até a poesia é permitida, e a paz na Terra”, escreve. O crescendo hiperbólico da passagem acaba soando, porém, como uma autoironia, põe em dúvida aquilo que afirma.
Em russo, a palavra para “alemão” é “nemetskiy”, o que literalmente quer dizer “língua de mudos.” Atenta a essas reverberações da linguagem, a autora aproxima seu livro das aulas de seus antepassados, que ensinavam os surdos a falar. Escrever em alemão é também uma tentativa de romper o silêncio, fazer surgirem sons e palavras ali onde eles parecem se ausentar. Mais uma vez, porém, a busca se depara com um limite: “não há palavra para o insuportável. Afinal, se a palavra é capaz de suportá-lo, então ele é suportável.” Escrever se torna então, também, uma forma de sublinhar a ausência, indicar o que não está lá.